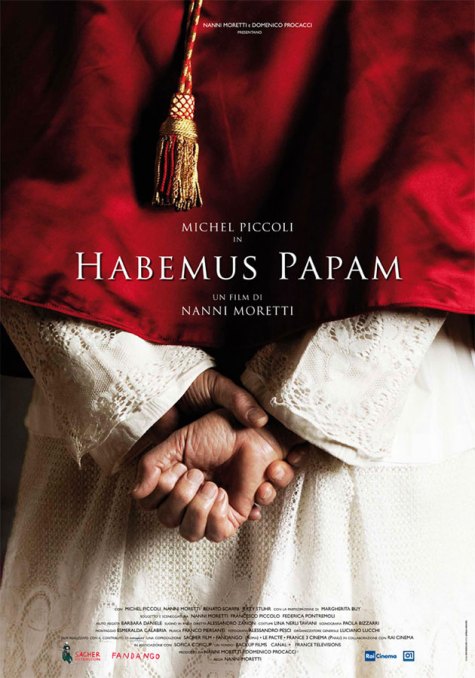Nada como uma lista pra reviver o blogue. A pedido da Liga dos Blogues Cinematográficos, aqui vai uma lista de 20 filmes dos anos 2000 (o que conta, para a lista são os filmes que vão de 2000 a 2009).
Difícil e prazerosa de fazer como a maioria das listas, mas com um pouco menos de critério. Vários diretores que gostaria de ter incluído ficaram de fora (Tarantino, Chabrol, Godard, Errol Morris, Bellocchio, Almodóvar), outros de quem gostaria de colocar mais de um filme (Claire Denis, Coutinho, Guy Maddin, James Gray), todos ficaram de fora pela restrição evidente. Vamos à lista, com comentários-pílula sobre cada filme:

01- Cidade dos Sonhos (Mulholand Drive, 2001), de David Lynch
Incrível como o filme rapidamente se sedimentou como um marco do cinema do novo século, o que faz a gente esquecer seu potencial poético e narrativo.

02- Maria (2005), de Abel Ferrara
A mais ousada defesa da fé como necessidade humana. Violência e paixão. A cena do diretor carregando seu filme embaixo do braço, no meio da ameaça terrorista, ainda é de arrepiar.

03- Amantes (Two Lovers, 2008), James Gray
O filme desesperado da década. O mais romântico, um dos mais bem filmados.

04- Marcas da Violência (A History of Violence, 2005), de David Cronenberg
Obra-prima de precisão e concisão. Tudo está no lugar, até o exagero. Uma tragédia familiar sobre aparência e essência.

05- O Sabor da Melancia (Tian bian yi duo yun, 2005), de Tsai Ming-Liang
Um dos mais delirantes ovnis criados pelo cinema recente. E talvez o final mais surpreendente e amoral de todos.

06- A Menina Santa (La Niña Santa, 2004), de Lucrecia Martel
A maioria prefere O Pântano, mas para mim A Menina Santa é um passo a mais na construção climática peculiar de Lucrecia Martel. De certa forma, um filme de horror.

07- 35 Doses de Rum (35 rhums, 2008), de Claire Denis
Uma ode ao afeto! De pai e filha, de amigos, de amores. Vamos furar o pneu e dançar em um bar perdido no meio da noite!

08- Paranoid Park (2007), de Gus Van Sant
Ninguém filma a adolescência como Van Sant. Dúvidas, crescimento e mais dúvidas.

09- Ervas Daninhas (Las Herbes folles, 2008), de Alain Resnais
Como deixou claro no último filme (Vocês ainda não viram nada), Resnais está há um tempo fazendo o que quer, para nosso deleite. Delírio prazeiroso.

10- Mal dos Trópicos (Sud pralad, 2004), de Apichatpong Weerasethakul
Apichatpong é uma descoberta da década, e a minha se deu com esse filme. Um mergulho sensorial, em todos os sentidos.

11- My Winnipeg (2007), de Guy Maddin
Acho Guy Maddin um dos cineastas atuais mais mal compreendidos. Há muito o que se extrair do curto-circuito de nostalgia retrabalhada, humor absurdo e recriação documental de um filme como My Winnipeg.

12- A História de Marie e Julien (L’histoire de Marie et Julien, 2003), de Jacques Rivette
O melhor Rivette da década. O filme que ele abandonou no final dos anos 70 depois de uma crise de nervos. Emmanuelle Béart. Um grande filme sobre amores e fantasmas. Se você não vê motivos para ele estar aqui na lista, você não o merece.

13- Lady Chatterley (2006), de Pascale Ferran
Talvez o melhor filme feminista da década, mesclando sexualidade e política com uma força raramente vista.

14- A Última Noite (25th Hour, 2002), de Spike Lee
Uma porrada, um rojão, uma fluxo poderoso sobre a derrocada de pessoas dentro de uma cidade perdida.

15- Sobre Meninos e Lobos (Mystic River, 2003), de Clint Eastwood
Eastwood encara de frente os temas fortes propostos pelo livro em que o filme se baseia: pedofilia, vingança, falsos julgamentos. O mundo adulto é complexo quase sempre e muitas vezes feio.

16- Edifício Master (2002), de Eduardo Coutinho
O ápice da arte de conversar, de ouvir, de se aproximar, de fazer as pessoas se crirarem em frente da câmera.

17- Os Amantes Constantes (Les Amants réguliers, 2005), de Philippe Garrel
Garrel, o cineasta da melancolia, indo de 68 para 69, para depois mostrar que nunca estamos livres da dor.

18- Lúcia e o Sexo (Lucía y el sexo, 2001), de Júlio Medem
Para compensar a dor de Os Amantes do Círculo Polar, Medem propôs essa fábula. Mas que estranho e triste filme feliz é esse… Sensual, bem-humorado, sem frescuras. Uma proposta poética que parece ter parado por ali, infelizmente.

19- As Coisas Simples da Vida (Yi yi, 2000) de Edward Yang
Não um filme sobre o simples (há situações, inclusive, bem complicadas que o filme explora), mas sobre a necessidade da delicadeza nas relações humanas, por mais duras que sejam. Um cineasta que se foi cedo.

20- O Mundo (Shijie, 2004), de Jia Zhang-ke
A poesia do pastiche, do digital, do excesso, da alienação, que apesar de tudo, não conseguem se sobrepor à experiência das pessoas. Um novo olhar para um novo mundo.

 1- Cosmópolis (Cosmopolis, 2012), de David Cronenberg
1- Cosmópolis (Cosmopolis, 2012), de David Cronenberg